
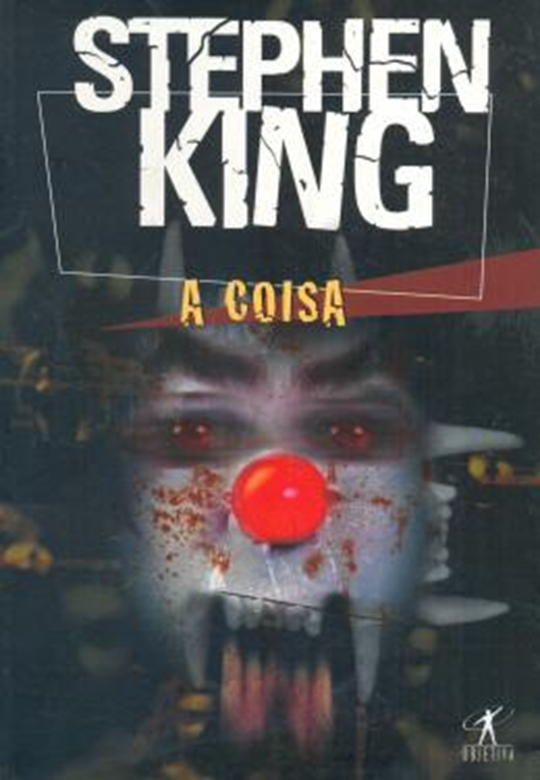
“É possível uma cidade inteira ser mal assombrada?
Assombrada como se supõe que sejam algumas coisas?
Não apenas um único prédio na cidade, tampouco a esquina de uma única rua, uma única quadra de basquete em um único parquezinho, com a cesta da rede projetando-se ao pôr-do-sol como algum obscuro e sangrento instrumento de tortura, não apenas uma área, mas tudo.Tudo quanto houver nessa cidade.
Pode ser possível?
Ouçam:
Assombrado: ‘Visitado freqüentemente por espíritos’.
Assombrando: ‘Retornando à mente com persistência, difícil de esquecer.
Assombrar: ‘Surgir ou infestar com freqüência, em especial como fantasma’, No entanto, ouçam: ‘Lugar assiduamente visitado, toca, antro, estância...
Ainda mais uma. Esta, como a última, é uma definição de assombrado como substantivo. É ela que me assusta. É ela que me apavora: ‘Um local onde os animais costumam alimentar-se.’
É como se eu tivesse caído dentro de uma história, mas todos sabem que a gente só sente medo no fim da história, quando o assombrador finalmente sai das paredes internas da casa para alimentar-se... de nós, é claro.
De você. ”
“Havia um palhaço no bueiro. Era um palhaço, como no circo ou na TV. O rosto era branco havia tufos engraçados de cabelo vermelho em cada lado da cabeça careca e um enorme sorriso de palhaço pintado na boca. Usava uma roupa larga de seda, com grandes botões cor de laranja. Uma berrante gravata azul-elétrico pendia em sua frente e ele calçava enormes luvas brancas, do tipo que Mickey Mouse e Pato Donald sempre usavam.”
“O palhaço agarrou-lhe o braço.
Então, George viu a transformação no rosto do palhaço.
O que viu foi tão terrível que transformou em doces sonhos o que imaginava de pior sobre a aparência da coisa na adega. O que viu destruiu sua lucidez em uma fração de segundos.”
Nunca foi novidade pra ninguém que me conhece bem que meu gênero preferido é o terror, desde que me conheço por gente. Me recordo como se fossem ontem da primeira vez que fui trancafiado com Jonathan Harker no castelo do Conde Drácula, das minhas primeira visitas às Planícies de Leng e de como fui apresentado ao tenebroso Necronomicon. De presenciar o início do apocalipse com o parto do esperado filho da senhora Rosemary. Raros são os livros capazes de provocar emoções tão poderosas e permanecerem tão firmes em nossa memória, como que grafados a fogo.
Por esses e outros motivos, Stephen King jamais saiu de evidência desde que estreou como escritor. Pelo contrário, seu nome só fez se tornar cada vez um sinônimo maior de qualidade, principalmente nos anos 80, quando lançou suas mais famosas obras, num ritmo tão alucinante que chegou a lançar três romances em um só ano. Seus melhores livros se tornaram grandes clássicos do horror moderno, lado a lado com Invasores de Corpos, de Jack Finney e Eu sou a Lenda, de Richard Matheson. Afinal, que de outra forma deveríamos chamar Carrie, a Estranha, sucesso absoluto há mais de trinta e cinco anos? E suas versões das clássicas histórias de Lugar Ruim, Christine e Iluminado? E a sua mega saga literária A Torre Negra?
Não bastassem esses e outras dezenas de livros, ele nos presentearia em 1986 com uma das suas maiores obras-primas. A Coisa é uma das suas mais definitivas provas de que não é só um excelente escritor de horror, mas um autor brilhante, acima de tudo. Aqui ele demonstra finalmente que poderia escrever histórias de outros gêneros, mas optou pelo terror porque é o único capaz de representar com tanta ênfase os seres humanos em seus piores e mais corruptíveis momentos... e nos seus mais belos e verdadeiros. É o que destrói todas as nossas defesas, invadindo aquele quartinho trancado em nossas mentes que escondemos até de nós mesmos, onde ficam nossos maiores pesadelos.

Em 1958, um grupo de sete crianças se une, aparentemente apenas pelo acaso e pela forte amizade entre eles, para tentar destruir o mal que assola a pequena cidade de Derry há gerações. Uma entidade maléfica de vários rostos, mas mais conhecida pela figura sádica do palhaço Parcimonioso, que vem espalhando um rastro de sangue e morte das crianças das quais se alimenta. Imortal e praticamente invencível, ela usa o medo das suas vítimas para subjugá-las. Bill, Richie, Bev, Mike, Ben, Eddie e Stan, sem nenhuma arma além da coragem, confiança mútua e amizade, chegam tão perto de destruí-la que partem pensando que conseguiram. Vinte e sete anos depois, A Coisa volta a espalhar o terror por Derry, desta vez com um sentimento que ainda desconhecia: a sede de vingança. É a hora daquele grupo de amigos se reencontrar e cumprir o juramento que fizeram: o de matar a Coisa de uma vez por todas. Começamos então a acompanhar a história do que aconteceu quando eles eram apenas crianças e agora já adultos.
“Com renovado horror, Ben percebeu que, de algum modo, o palhaço alcançara a ponte, estava agora bem abaixo dele, erguendo a mão ressequida e encarquilhada, da qual abas da pele pendiam como bandeirolas – mão através da qual apareciam ossos semelhantrs a marfim amarelado.
Um dedo quase sem carne acariciou o bico da sua bota.”
Talvez A Coisa assuste alguns pelo seu vultuoso tamanho. Um dos maiores tomos já escritos pelo Rei do Terror, ele tem quase novecentas páginas. Mas seus verdadeiros e mais apaixonados leitores foram rápidos em compreender que seus melhores romances são justamente os mais longos. Não é à toa que Dança da Morte e A Coisa sejam considerados dois dos seus melhores livros e A Torre Negra, série literária que permeia cerca de quatro mil e quinhentas páginas em sete volumes, seja tido tanto por público e crítica, sua Opus Magnum, sua maior obra. A razão disso está no fato de que ele não lota páginas e mais páginas com enrolações ou informações inúteis, como fazem muitos escritores famosos. Embora para alguns possa parecer apenas encheção de linguiça, não é. Ele preenche suas páginas com o que realmente importa: a construção cada vez mais complexa da história e o desenvolvimento magnificamente elaborado de personagens marcantes. Acredite, todas as linhas de A Coisa são essenciais.
É justamente na construção de personagens que A Coisa mostra uma das suas maiores qualidade. King sempre foi bastante habilidoso no desenvolvimento psicológico do elenco de seus livros, porém aqui ele chegou à perfeição. Ele chegou a um resultado que muitos escritores almejam, mas muito raramente alcançam. Poucas vezes me senti tão ligado aos protagonistas de um romance e confesso que fiquei profundamente melancólico ao terminá-lo, por lembrar que teria de me despedir de todos aqueles personagens com quem convivi por tanto tempo. Cada um deles tem motivações tão convincentes e personalidades únicas que por vez parecem adquirir autonomia própria, fugindo das mãos de seu criador e fazendo o que bem entendessem. Até mesmo seus diálogos são extremamente críveis. Sejam de adultos ou crianças transcrevem frases que eu mesmo diria se tivesse aquela idade e estivesse nas mesmas situações.
“Que bando de perdedores tinham sido! Stan com seu narigão de menino judeu, Bill Denbrough que não conseguia dizer outra coisa além de ‘Hi-yo, Silver’, sem guaguejar, de um jeito que quase enlouquecia quem o ouvisse, Beverly Marsh com suas esfoladuras e seus cigarros enrolados na manga da camisa, Ben Hanscon, tão gordo que parecia uma versão humana de Moby Dick, e Richie Tozier, com seus óculos de lentes grossas, suas notas altas, sua boca sensata e o rosto que apenas começava a ser modelado em novos e excitantes formatos. Haveria uma palavra para definir o que tinham sido? Oh, claro. Sempre haveria. Le mot Just. Neste caso, Le mot Just era bobocas.”
“Eles sabiam... e ninguém iria recuar. De repente, ficou muito orgulhoso dos companheiros, muito orgulhoso de ser parte daquele grupo. Após tantos anos sendo excluído, agora era incluído. Finalmente incluído. Ignorava se continuavam sendo perdedores ou não, mas estavam juntos. Eram amigos. Infernalmente amigos”
Não tenho o costume de comentar protagonista por protagonista nos textos que escrevo, mas em A Coisa isso é mais do que necessário. Sem eles, não haveria nenhum envolvimento por parte do leitor com a história. Em vários de livros de Stephen King existe um personagem livremente inspirado nele mesmo. Se em O Iluminado temos Jack Torrance e em A Hora do Vampiro Ben Mears, aqui temos Bill Denbrough. Bill compartilha algumas coincidências com o seu criador: Ambos “sofreram” uma subida meteórica na carreira de escritor. Se dedicaram a obras sobre a infância e a passagem a vida adulta (A Coisa é uma delas). Os dois têm a firme convicção de que na literatura a história deve estar acima de tudo e todas e todas as outras questões a serem pensadas, como tema, atmosfera e tom, são supérfluas. Claro que Bill não se limita a ser um avatar de King na história, não tão óbvio e limitado. Essas semelhanças são apenas marcantes demais para serem ignoradas.
Bill vai muito além disso. Ele é uma das melhores representações de liderança já feitas. A sua posição de comando do grupo não lhe cai como uma dádiva, uma honra da qual devesse se orgulhar. É um peso em seus ombros, uma responsabilidade indesejada depositada nele pelos seus amigos, quase inconscientemente. É dever dele manter o grupo unido a qualquer custo, encorajá-lo, para conseguir matar A Coisa. Se fracassar pagará um alto preço: a própria vida.
“Bill experimenta uma forma de exaltação divina, enquanto se ocupa em escrever a história; inclusive, chega a sentir que não está somente contando a história, mas permitindo que ela flua através dele. A certa altura, larga a caneta e coloca a mão, quente e dolorida, dentro do frio de dez graus negativos de dezembro, e ela quase solta fumaça, devido ao choque de temperatura. Ele caminha a esmo, as botas verdes novas rangendo na neve, como pequenas dobradiças de persiana precisando de óleo, e sua cabeça parecia inchar com a história – e a maneira como ela precisa escapulir de lá é algo assustador. Bill acha que, se ela não conseguir escapar através da velocidade da sua mão, terminará explodindo por seus olhos, tamanha a urgência em liberar-se e tornar-se concreta. ‘Vou espremê-la até as tripas’, declara ele ao ventosos e escuro inverno. Ri um pouco. Um riso trêmulo. Tem consciência de que, finalmente, descobriu como fazer isso – após dez anos de tentativas, subitamente descobriu o botão de partida para o vasto trator parado, que lhe toma tanto espaço no interior da cabeça. O motor foi ligado. Está roncando, roncando. Nada tem de bonito, essa máquina imensa. Não foi feita para acompanhar lindas garotas a bailes de formatura. Não é um símbolo de status. Significa atividade. Pode derrubar coisas. Se ele não tomar cuidado, pode derrubá-lo também.”
Richie Tozier é igual aquele moleque da sua turma que costumava sentar no fundo da sala e sempre tinha uma piada na ponta da língua. O sonhador que almeja ser o melhor ventríloquo do mundo, que só consegue fazer péssimas vozes, todas parecidas com a dele, cresce e se torna conhecido no meio radiofônico como o Homem das Mil Vozes. Richie é pra mim o personagem mais sensacional do grupo de protagonistas. Ele não é só um alívio cômico, não entrou na história apenas para fazer humor. Ele tem sua própria importância para a história, se preocupa realmente com o s amigos e pode ser bem sério quando lhe dá na telha.
“Não tinha sido dos melhores no início, não ficara excitado demais, para ser bom... no entanto, havia descoberto que seu potencial o levaria a não ser apenas bom no trabalho, mas excelente, um conhecimento suficiente para enviá-lo à lua, em uma nuvem de euforia. Ao mesmo tempo, começara a entender o grande princípio que movia o universo, pelo menos aquela parte do universo que tinha a ver com carreiras e sucesso: é quando descobrimos o cara louco que esteve dando cabeçadas dentro de nós, infernizando nossa vida. A gente o encurrala a um canto, apodera-se dele, mas não o mata. Oh, não! Matar seria bom demais para sujeitos como esse bastardinho. O que se deve fazer é pôr-lhe um cabresto e então começar a arar. O cara louco começa a trabalhar como um demônio depois de atrelado ao caminho certo. E, de vez em quando, ele fornece algumas graças. Tudo consistia nisso. E era o bastante.”
Ben Hanscon, Bev Marsh, Eddie Kaspbrak e Stan Uris são os membros práticos do grupo. Ben é um garoto rejeitado pela maioria das pessoas por ser muito gordo, mas é dono de uma capacidade intuitiva de construir tudo o que quiser, de balas e clubes subterrâneos até barragens improvisadas. Sua amada Bev é a típica menina que só anda com garotos, nova demais para pensar em namoro, mas bonita o bastante pra fazer com que seus colegas direcionem olhares apaixonados para ela. Eddie é o garoto que por causa dos cuidados superprotetores da mãe é hipocondríaco desde pequeno e dono da mais grave asma já vista. O mais fiel amigo de Bill, seria capaz de sacrificar sua vida por ele, sem pensar duas vezes. Stan é o garoto do grupo que mais sofre por ter que enfrentar A Coisa. Por vezes, parece enfrentar um terrível duelo consigo mesmo. Não é o medo dela que lhe tira o sono, não mesmo. É a destruição da racionalidade, do sentido de correto e possível, que um palhaço imortal e que pode estar em todos os lugares representa à sua mente. Reconhece que é seu dever tentar eliminar A Coisa, mas ele se sente incapaz disso, fraco demais. É como se ele quisesse desistir de tudo, mas não tivesse coragem de dizer isto aos seus amigos.

Geralmente, quando um bibliotecário aparece numa obra ficcional é sempre de forma estereotipada, como uma senhora de óculos que detesta barulho ou uma mulher que parece deter todo a sabedoria do universo apenas por ter escolhido esta profissão, ou mesmo como um vilão. Mas a grata surpresa aqui é encontrar não apenas um bibliotecário perfeitamente normal, como ainda um dos mais importantes da história. Mike Hanlon tornou-se o responsável pela árdua tarefa de permanecer vigilante a todos os acontecimentos da cidade, de perceber se um novo ciclo da Coisa se iniciar e convocar seus amigos para cumprirem a promessa. O que praticamente equivale a um guarda buscando os condenados para serem executados na cadeira elétrica.
“O rangido de tendões secos novamente. Arroto tornou a olhar para ele, com seu solitário olhar fundo. Os lábios distendidos em um sorriso terrível, revelando gengivas negro-acizentadas que produziam seu próprio jardim de limo. Que tipo de sorriso é esse, perguntou-se Henry, enquanto o carro ronronava maciamente pela rua Main, passando pelo Freese’s de um lado, a Lanchonete Nan’s e o Cinema Aladdin do outro. Um sorriso de perdão? Um sorriso de velho amigo? Ou será do tipo que significa eu vou pegar você?”
Antes mesmo de se tornar um assunto amplamente debatido pela sociedade e ganhar este nome, o bullying já era um dos temas mais recorrentes na obra de King. É o bullying a princípio que une Bill, Mike e os outros, porque todos eles são perseguidos pelos garotos maiores, por um motivo ou por outro. A junção dessas minorias gera uma tabela de abusos que faria Carrie parar de reclamar e dar graças a Deus pela vida que tem. Henry Bowers é mais que o valentão típico das escolas americanas, com seus amigos de baixo QI. É um verdadeiro psicopata. Ele não está apenas interessado no dinheiro do lanche ou em dar algumas porradas em uma criança indefesa. Ele quer humilhar, machucar e, talvez, matar. Está numa linha extremamente tênue entre a sanidade e a loucura, a realidade e o delírio. Nas mãos dele, uma faca vira um querido objeto de estimação. Para a nossa sorte, mesmo Henry e o restante dos vilões humanos do livro têm motivações e passados que, se não nos faz aceitá-los, pelo menos nos deixa compreendê-los.
“Ninguém para de ser criança subitamente, com um estouro explosivo, como um daqueles balões daquele palhaço, com suas inscrições baratas. A criança dentro de nós apenas se escoa, como o ar escapando de um pneu. Um dia, ao olhar no espelho, vemos um adulto que nos fita.”
Stephen King sempre foi fascinado pela idéia de que as crianças se saem melhor do que os adultos quando enfrentam o medo e incorporam o inexplicável às suas vidas. Porque as crianças convivem com o medo o tempo inteiro, seja do monstro dentro do armário ou da criatura abaixo da cama. Milagres, sejam bons ou ruins, sempre são levados em conta. A aparição repentina de um monstro gigante logo ao acordar não impossibilitariam que a criança comesse bastante no almoço e lanchasse vários sanduíches depois. Talvez nem perturbasse seu sono à noite.
Contudo, nos adultos tudo isso muda. Eles não ficam mais acordados na cama por medo de um monstro o espreitando no escuro, mas quando se deparam com o sobrenatural, algo além da explicação racional, seus cérebros pifam e eles começam a tremer em total descontrole, a chacoalhar. Não há como incorporar aquilo à sua experiência de vida, mas sua mente continua voltando e voltando ao acontecimento. Até que enfartam, cometem suicídio ou passam o próximo ano e meio em uma sala acolchoada de um hospício escrevendo cartas a familiares com um giz de cera.
De certa forma, não chega a surpreender que seus personagens infantis sejam sempre os mais cativantes e eternos nas nossas memórias. Em A Hora do Vampiro é o nome do garoto fanático por terror, Mark Petrie, que fica na cabeça. Em O Iluminado, por mais que a imagem de Jack Nicholson com os cabelos em desalinho, olhar insano e machado em riste insista em voltar às nossas mentes, é Danny quem mais marca. Se nos envolvemos tanto com os protagonistas de A Coisa é porque Stephen King nos permite acompanhá-los desde crianças.
A Coisa é, como já mencionei acima, uma obra sobre a infância. Ela consegue rivalizar com os melhores momentos de clássicos como O Jardim de Cimento, de Ian McEwan, Tom Sawyer, de Mark Twain e os melhores momentos de Conta Comigo (adaptado de um conto do próprio Stephen King). O romance é, sobretudo, um convite a todos nós. Um convite para que revivamos, mesmo que por poucos e preciosos momentos, não apenas as nossas brincadeiras de criança, mas todos os nossos maiores medos da infância. De como implorávamos para dormir com a luz acesa, quando o porão parecia negro e ameaçador e sempre nos parecia que havia uma criatura arranhando o vidro da janela do quarto enquanto tentávamos em vão dormir.
“Quando se fica adulto, deixa-se de acreditar.”
“Foi como se retirassem um peso imenso de cima de seu peito. Da mesma forma que Ben com sua múmia, Eddie com seu leproso, Stan com os garotos afogados, ele vira uma coisa que levaria um adulto à loucura, não apenas pelo terror, mas pela força devastadora de uma irrealidade grande demais para ter uma explicação racional ou, na falta de uma explicação, para ser simplesmente ignorada. O rosto de Elias fora queimado e ficara escurecido pela luz do amor de Deus, pelo menos assim tinha lido; contudo Elias era um velho quando isso aconteceu e talvez houvesse aí uma diferença. Um daqueles outros sujeitos da Bíblia, este pouco mais do que um menino, não havia lutado com um anjo?”
E é o poder presente na infância que permite com que sete crianças possam combater A Coisa, sem a ajuda de adultos. Apenas usando a inocência e a capacidade de acreditar que só as crianças são capazes de ter. Quando eles retornam, calvos e vividos, uma parte da mente deles sabem que as chances de sucesso são quase nulas. Afinal já passou a época em que eles acreditavam que o Papai Noel podia estar em cada esquina no mês de dezembro no mesmo tempo em que produz brinquedos para o Natal no Alasca. É esta quase certeza de fracasso que permite que a história consiga ser tão pavorosa, horripilante. Realmente entendemos que todos ali correm o risco de morrer.
“Os olhos do palhaço aumentavam cada vez mais. Naquelas pupilas negras, tão grandes quanto uma bola de softball, Richie viu a louca escuridão que devia existir além da borda do universo, viu uma repugnante felicidade que, percebeu, poderia deixá-lo insano. Naquele momento compreendeu que A Coisa poderia fazer tudo o que dissera e muito mais.”
Desde o lançamento de Frankenstein, de Mary Shelley, existe um elemento que se tornaria comum em milhões de filmes, livros e contos de horror. O ser inominável, o monstro, aquilo que só pode ser definido por Ele ou Coisa. Stephen King nos presenteia aqui com a versão definitiva do monstro ou, como o próprio título nos grita em sua capa, da Coisa. Perto dela, Drácula, Frankenstein e Freddy Krueger empalidecem. Ela parece ser eterna, capaz de alterar as nossas noções de realidade e tempo, desprezar as leis da física, e controlar os nossos sentidos. Pior que isso, ela pode penetrar em nossas mentes para identificar nossos maiores pavores. É mais antiga que o próprio tempo, capaz de se transformar em seu maior pesadelo em um piscar de olhos.
A capacidade de se transformar acaba por se tornar um de seus atributos mais interessantes. Como a sua principal base alimentar sempre foi as energias das crianças, não é incomum que ela apareça do nada como os monstros dos filmes que elas vêem no cinema e depois lhes dão pesadelos por semanas a fio. Se um garoto se borra de medo só de ouvir o “tan-tan-tan-tan” da canção-tema do Tubarão, de Steven Spielberg, é como essa besta aquática que ela irá surgir. Não demora muito e somos brindados com as aparições do Lobisomem Adolescente, da Múmia e de sanguessugas gigantes voadoras.
“Não, não eram reais. Monstros de televisão e monstros do cinema, assim como os monstros das histórias em quadrinhos, não eram reais. Não, até que a gente fosse para a cama e n/ao conseguisse dormir; não, até que as últimas quatro barras de doce, embrulhadas em pedaços de pano e guardadas debaixo do travesseiro contra os males noturnos, fossem saboreadas; não até que a cama em si se tornasse um lago de sonhos repugnantes e o vento uivasse lá fora, dando medo de olhar pela janela, porque talvez houvesse um rosto na vidraça, um rosto velho e sorridente que não apodrecera, mas apenas secara como folha morta, com órbitas semelhantes a diamantes submersos, enfiados bem no fundo de órbitas escuras, não até que visse uma mão descarnada e encarquilhada segurando uma porção de balões de gás.”
“Eles flutuam e você flutuará também!”
Perto destas transformações a forma como A Coisa é mais famosa, a do plhaço Parcimonioso, quase perde um pouco do seu brilho. Quase porque, diferente das demais, ela não existe para atemorizar. Quantas crianças gostam de palhaços? Quantas não só gostam deles, como também fariam tudo para ter uma daqueles balões espectrais que Parcimonioso leva para todos os lugares? Além de servir para atrair as crianças, também é um terrível pesadelo para aquele grupo de pessoas que têm pavor de palhaços (três amigos me contaram que jamais leriam A Coisa por temerem palhaços desde que se conhecem por gente) e a boca pintada de vermelho-sangue em um sorriso sádico de orelha à orelha, os pompons alaranjados e a calça folgada estão ali para nos lembrar que A Coisa não é apenas um monstro inarticulado. Ela faz novas vítimas com o senso estético de um artista e com a mesma satisfação com que uma criança come um chocolate: gargalhando alto ao se preparar para matar da maneira mais original que conseguir imaginar.
Não é incomum no horror cidades que dão a idéia de ter vida própria. A Derry onde se passa a história parece ser dona de uma consciência malévola, capaz de influenciar os pensamentos e o comportamento de seus habitantes, levá-los a crimes bárbaros e a catástrofes inimagináveis. Derry sempre está lá, silenciosa e oculta, espreitando todas as ações de seus habitantes.
“Quem sabe quanto tempo dura o luto? Não será possível que, mesmo 30 ou 40 anos após a morte de um filho, de um irmão ou irmã, a gente pense vagamente naquela pessoa, com o mesmo vazio perdido, aquela sensação de lugares que nunca serão preenchidos, talvez nem mesmo na morte?”
Assim como a minissérie que adaptou o livro para a televisão anunciava A Coisa é uma obra-prima do medo. Em seus mais inspirados trechos, Stephen King parece estar apenas se divertindo com as milhões de possibilidades que a história que criou lhe dá, apenas metendo o pé no acelerador e vendo até onde a sua imaginação lhe deixa ir. Não é de se estranhar que a sua imaginação o tenha feito ir tão longe, percorrer novecentas páginas. Não é uma questão que ele goste ou ame escrever. Escrever pra ele é uma necessidade tão física quanto a cocaína pra um viciado e o próximo trago pra um alcoólatra. É o que mantém sua mente ativa e livre de inseguranças, além de ser melhor forma possível de se passar o tempo.

Mesmo considerado o rei do horror é ótimo ver como King nunca faz questão que de esconder suas influências, os autores que ditaram os rumos da sua ficção e carreira. Além de assumi-los livremente, ele ainda os transforma em elementos fixos das suas histórias. As figuras de Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft e Bram Stoker estão dessa vez para mostrar o quanto a ficção pode estar distante da nossa realidade.
“Se isto é uma história, não se trata de algum daqueles clássicos sensacionais de Lovecraft, Bradbury ou Poe. As convenções românticas estão totalmente erradas. Meus cabelos não embranqueceram. Não sou sonâmbulo. Não comecei a fazer comentário enigmáticos ou a carregar uma prancheta por aí, no bolso do meu paletó-esporte. Acho que rio um pouco mais, eis tudo, e às vez meu riso deve parecer mais estridente e curioso, porque em algumas ocasiões as pessoas me olham de maneira estranha, quando estou rindo.”
“Se fosse apenas cansaço, tudo bem; contudo, era algo mais, era a sensação de que algo se desintegrava, de que sonhava, de que tinha ilusões paranóicas. Uma sensação de estar sendo espionado. Talvez eu não esteja aqui, pensou. Talvez esteja no hospício do Dr. Seward, tendo como vizinhos o Conde em sua cada arruinada e Renfield na porta bem em frente no corredor, ele com suas moscas e eu com meus monstros, nós dois convictos de que a festa continua e vestidos para a ocasião, não em trajes a rigor, mas em camisas-de-força.”
King nunca escondeu de ninguém que sempre que começa uma história nova não faz a mínima idéia de como ela vai terminar. Ele só a descobre do mesmo jeito que o leitor, seguindo a história. A sua concepção é que isso tiraria toda a graça da escrita. A Coisa é uma notável e bem-vinda exceção. Em diversos momentos ele já dá uma boa idéia do que está por vir na história, gerando aquela curiosidade cada vez mais enervante em saber logo o que vai acontecer que é tão presente em seus livros. E por mais que nos dê dicas ele sempre dá um jeito de nos surpreender.
Infelizmente, nem tudo funciona bem em A Coisa. King, talvez por medo da complexidade do enredo, comete o equívoco de esmiuçá-lo demais, mastigando detalhes que ficariam bem mais interessantes se permanecessem apenas sugeridos durante a narrativa. Provavelmente, isso garante que até o leitor mais distraído compreenda toda a riqueza do livro, mas não deixa de ser uma decepção pensar que mesmo tendo alcançado tamanho nível de qualidade ele ainda duvidasse da total eficiência das suas armas.
"Talvez nem exista isso de amigos que prestam ou que não prestam - talvez existam apenas amigos, pessoas que nos apóiam quando estamos por baixo e que não nos deixam sentir solidão. Talvez sempre mereçam que nos preocupemos, que torçamos e vivamos por eles. E que também morramos por eles. Nada de amigos que prestam. Nada de amigos que não prestam. Apenas amigos de quem sentimos falta, com os quais queremos ficar, as pessoas que moram em nosso coração."
"O que importa é o amor, a preocupação, os cuidados... é sempre o desejo, jamais o tempo. Talvez seja tudo o que podemos levar conosco, ao sairmos do azul e penetrarmos no negro. Um frio consolo pode ser, porém melhor do que nenhum."
Mas A Coisa é um dos livros de Stephen King que mais abre espaço para diferentes interpretações. Alegorias sobre a puberdade, o amadurecimento e mesmo sobre a eterna luta entre o bem e o mal podem ser vistas durante a história. Não é somente mais um livro de terror, é uma celebração da infância, da inocência, do amor e da amizade. É impossível lê-lo sem lembrar com saudade e um aperto no peito dos nossos tempos de criança, de como éramos capazes de acreditar em quase tudo e das amizades que jamais poderemos ter novamente.
Qualidades como estas são muito, muito mais que um mero escritor de terror poderia almejar. É aquele romance do gênero que quebra barreiras de gênero e de arte, de idade e de sexo. Entre em Derry e na vida de Bill, Richie, Stan e os outros e compreenda porque A Coisa é um dos melhores romances de horror do século XX.
Autor: Stephen King
Páginas: 892
Preço: R$ 95.00
Nota: 10


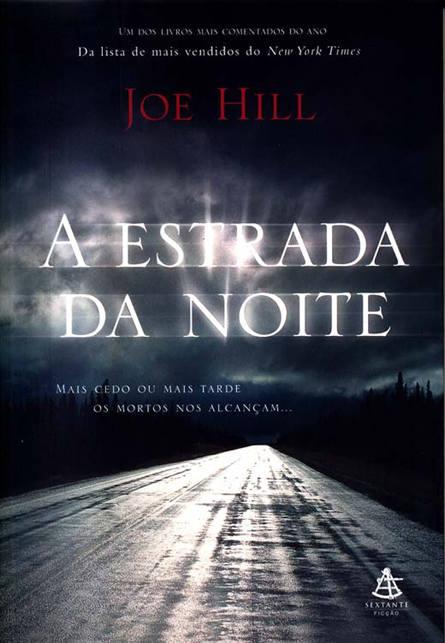



















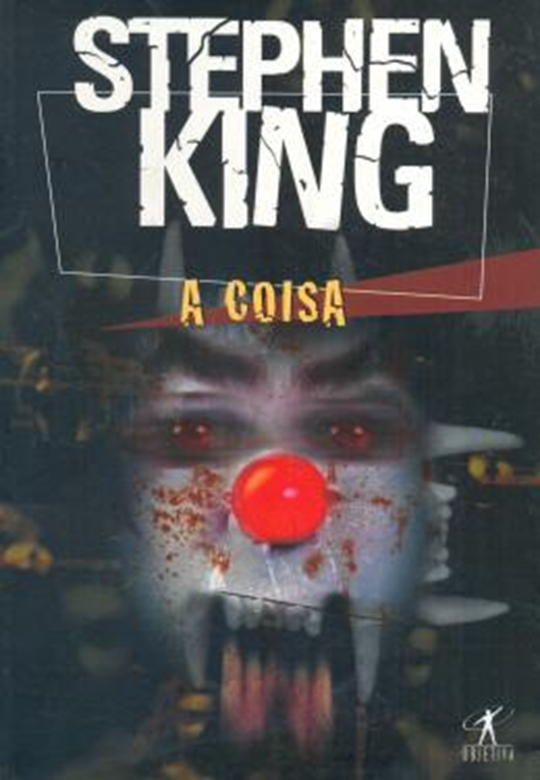











 Assine nosso
Assine nosso 





















